Acervo
Etnografia, compromisso e colaboração: desafios para uma antropologia contemporânea
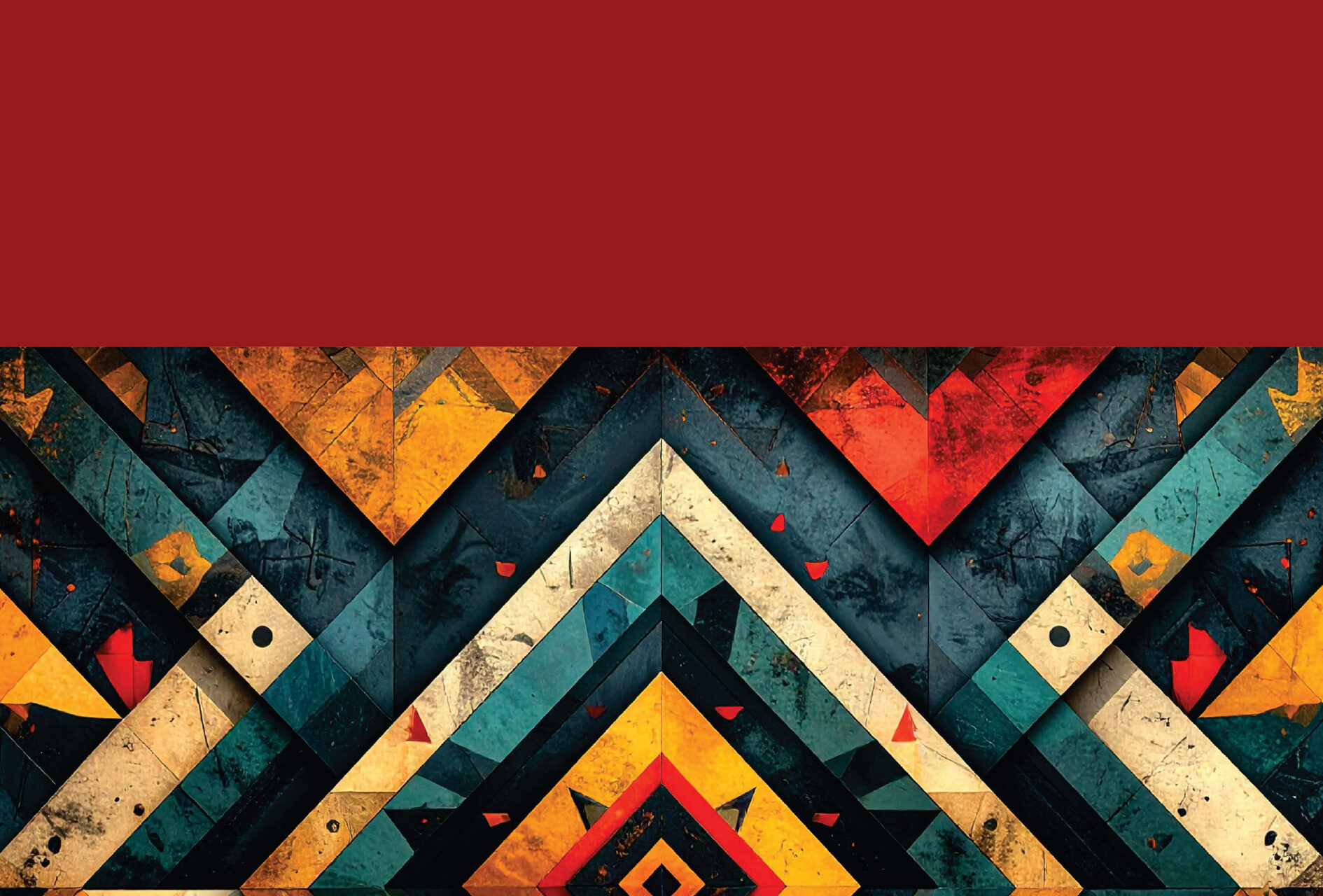
Dados da Obra
Autor(es): Organizado por Edviges Marta Ioris ; Ricardo Verdum ; João Pacheco de Oliveira
Editora: Tribos Editora
Ano de produção: 2025
Idioma Original: Português
Download em PDFCatalogação da Obra
Titulo, Subtitulo e indicação de responsabilidade: Etnografia, compromisso e colaboração : desafios para uma antropologia contemporânea Organizado por Edviges Marta Ioris ; Ricardo Verdum ; João Pacheco de Oliveira -- Brasília : ABA Publicações, 2025. 455 p. : PDF ; 8 MB
ISBN: 978-65-87289-51-9
DOI: 10.48006/978-65-87289-51-9
Assuntos e pontos de acesso secundario: Pesquisa sociológica – 301.021
Responsavel: Bianca Mara Souza –Bibliotecária - CRB-14/1587
Resumo
Desde a década de 1970, a Antropologia latino-americana tem pautado severas críticas aos cânones hegemônicos de produção de conhecimento antropológico sobre os povos indígenas, por continuarem a tomá-los como um “primitivo” e distanciado objeto de estudo, como se as suas organizações sociais e cosmologias fossem sistemas isolados, autônomos e a-históricos — insensíveis aos efeitos dos processos da dominação e da violência a que estiveram submetidos desde que a colonização se iniciou (Pacheco
de Oliveira & Quintero 2020; Fabian 2013). Um marco fundamental para essa virada política e epistemológica na Antropologia foi estabelecido pelo Simpósio La fricción interétnica en América del Sur fuera de la región andina, realizado em Barbados em 1971 (Grünberg 2019). Nesse evento, um pequeno grupo de antropólogos, com larga atuação entre os povos indígenas de vários países da América Latina, elaborou e divulgou severas críticas à produção etnológica que desconsiderava os contextos da dominação em que os povos indígenas estavam inseridos, assim como ignorava os processos de violência e extermínio que continuavam a se reproduzir na segunda metade do século XX. Munidos de densos levantamentos realizados em seus respectivos países, esses antropólogos apresentaram um amplo quadro de informações que destacava a perversa realidade em que os povos indígenas se encontravam. Sem direitos reconhecidos, os indígenas padeciam sob as relações de dominação, violência, esbulho territorial e precárias condições de vida, assim como os processos de genocídio físico e cultural, que davam prosseguimento ao projeto colonial.
Com base no dramático quadro apresentado durante o Simpósio, os antropólogos tomaram a decisão pela elaboração de uma Declaração que denunciasse a violência e o genocídio que continuava sendo praticado por — ou com a conivência — dos governos dos Estados nacionais ou das igrejas cristãs. Elaboraram também críticas rigorosas aos então vigentes cânones do conhecimento antropológico, que seguiam ignorando os contextos de violências e extermínio a que indígenas estavam submetidos, quando não ajudavam a legitimar os processos de extermínio dos povos indígenas, atribuindo-lhes um inexorável desaparecimento frente aos avanços das sociedades modernas. Assim, clamando por uma antropologia libertadora, comprometida e atuante na defesa dos povos indígenas, a chamada “Declaração de Barbados” também assinalava para a necessidade e urgência de produção de novos aportes teórico-metodológicos que abordassem esses contextos e processos de dominação e violências decorrentes do projeto colonial, e dos seus efeitos sobre as organizações sociopolíticas e culturais indígenas.
Da Declaração de Barbados até aos dias atuais, muitos foram os seus
desdobramentos e reapropriações, com a adição de novas críticas, concepções e formulações teórico-conceituais que permitiram melhor compreensão sobre o mundo colonial no qual se encontravam os povos indígenas,
bem como dos processos de adaptação e recusas desses povos, de seus pontos e estratégias de resistência e da reinvenção dos modelos socioculturais tradicionais destruídos. Assim, ao buscar compreender os indígenas nos contextos de dominação e violência, foi possível também apreender as agências e as resistências dos indígenas, seus processos de reconstrução enquanto coletividades étnicas, além de conhecer seus protagonismos e as formas pelas quais lograram resistir, reorganizar-se e atualizar sua cultura na contemporaneidade. Com fortes implicações para os estudos da etnologia indígena desde então, exigindo novos aportes interpretativos, o destaque dado às várias formas de resistência e protagonismos indígenas trouxe novas e esclarecedoras compreensões sobre a presença, permanência e representatividade dos povos indígenas nos diferentes contextos nacionais latino-americanos.
Esses protagonismos têm forjado novas orientações do trabalho etnográfico e da relação dos antropólogos e antropólogas com seus interlocutores de pesquisa. Sujeitos protagonistas de seus projetos de vida, articuladores políticos de largo alcance, os indígenas no presente têm pautado a exigência por uma antropologia dialógica, colaborativa e comprometida com a defesa dos povos originários, por reconhecimento, direitos e bem viver. Desse modo, a pesquisa etnológica atual não comporta mais metas de descrever um outro distinto, distante, exótico (Pacheco de Oliveira & Quintero, 2020). Os outrora considerados distantes objetos de pesquisas estão hoje lado a lado na academia, nos fóruns políticos, lendo criticamente o que tem sido produzido a respeito deles, proporcionando novos modos de compreensão sobre a presença dos povos originários e de suas relações com a sociedade ocidental e as dinâmicas do mundo moderno.
Assim, buscando contribuir com o debate a respeito do compromisso e colaboração nos trabalhos etnográficos, a proposta do livro foi reunir um conjunto de textos de pesquisadores e pesquisadoras que têm conduzido suas pesquisas entre os povos indígenas na América Latina e que têm produzido uma reflexão sobre suas elaborações, alcances e desafios para condução das pesquisas antropológicas contemporâneas. Sua motivação resulta de um conjunto de eventos que foram realizados nos anos de 2021 e 2022, os quais reuniram pesquisadores indígenas e não indígenas de instituições acadêmicas de diversos países da América Latina, ou que nela tem conduzido suas investigações.
O primeiro deles foi o Seminário Internacional sobre os 50 anos da Declaração de Barbados: a virada política e epistemológica da Antropologia na América Latina, realizado no dia 15 de novembro de 2021, de modo remoto, contando com a participação de dois antropólogos que estiveram presentes na histórica reunião de Barbados, Georg Grünberg (Universidade de Berna, Áustria) e Miguel Alberto Bartolomé (INAHMéxico), além de João Pacheco de Oliveira (MN/UFRJ-Brasil). O evento foi organizado e coordenado pelo Núcleo de Estudos sobre Povos Indígenas (NEPI/UFSC) e Comissão de Assuntos Indígenas da Associação Brasileira de Antropologia (CAI/ABA), visando proporcionar uma reflexão sobre os significados e alcances dessa histórica Declaração lançada em 1971. A gravação do Seminário está disponível online (vide referências).
O segundo evento foi o Simpósio Especial (23) — Etnografia, compromisso e colaboração: desafios para uma antropologia contemporânea — realizado durante a 33ª Reunião Brasileira de Antropologia (RBA/ABA), em 2022, também remotamente. Conduzido em três sessões, o Simpósio reuniu pesquisadores indígenas e não indígenas que, a partir de suas investigações, aprofundaram a discussão e trouxeram relevantes contribuições teóricas, metodológicas e éticas: abordando processos socioculturais com pessoas e comunidades indígenas vivendo em contextos de violência e resistência, de disputa sociopolítica ao acesso à justiça e direitos e de construção e restabelecimento de capacidades de agência individual e coletiva.
Durante o terceiro evento, no VI Encontro Mexicano-Brasileiro de Antropologia (VI EMBRA), ocorrido em Florianópolis (SC), entre os dias 5 e 8 de setembro de 2022, dentre as sessões, destaca-se a Mesa Redonda Desafios políticos e epistemológicos para uma Antropologia comprometida contemporânea: Diálogos Brasil-México, que se propôs a refletir sobre as produções antropológicas — no México e no Brasil — voltadas a práticas comprometidas e colaborativas com os povos e comunidades com os quais estudam. O debate contemplou os aportes teóricos, metodológicos e éticos nas suas investigações. A MR estava composta por antropólogos e antropólogas do Brasil e do México que, a partir de suas investigações e atuações, aprofundaram a discussão e trouxeram relevantes contribuições teóricas, metodológicas e éticas aos estudos sobre os povos indígenas em ambos os países
Ainda no evento do VI EMBRA, ocorreram apresentações em outras sessões que refletiram sobre esse comprometimento da antropologia com os coletivos com os quais estudam. Destacam-se, entre elas, a palestra de abertura proferida por Cristina Oehmichen Bazán (UNAM-México); as apresentações no painel temático Outros mundos possíveis, outras Antropologias possíveis, com a participação de intelectuais indígenas do Brasil e do México; e as apresentações nos Grupos de Trabalho, como o que abordou histórias e memórias das antropologias Brasil/México. Todas essas sessões podem ser visualizadas na página do VI EMBRA (vide referências).
Além dos textos resultantes destes eventos, ainda foram incorporados outros de pesquisadores e pesquisadoras de países que não foram contemplados no âmbito das atividades realizadas, permitindo ampliar o alcance das reflexões. Deste modo, esta coletânea reúne um conjunto extraordinário de textos de autores de vários países da América Latina, ou que nela atuam. Esses trabalhos abordam práticas antropológicas comprometidas política e epistemologicamente com os povos indígenas, seja na defesa do direito à vida e aos seus territórios, como na descolonização do conhecimento e na promoção de modos de produção colaborativos e das epistemologias indígenas, desenvolvidas ao longo do último meio século. Trata-se, portanto. de uma temática da maior atualidade e urgência, diante de novos contextos em que intelectuais indígenas ocupam e protagonizam espaços acadêmicos e de poder por toda a América Latina, assim como das exigências das comunidades indígenas por uma postura dialógica e cooperativa na condução das pesquisas que envolvam seus modos de vida. Compreendendo a Declaração de Barbados, de 1971, como marco de um processo de construção de uma antropologia comprometida, esta coletânea constitui um amplo e inovador documento histórico sobre as implicações e desdobramentos nos modos de produção de conhecimento sobre e com os povos indígenas em vários de seus países nas últimas cinco décadas.
Referências
PACHECO DE OLIVEIRA, J; QUINTERO, P. Para uma antropologia histórica dos povos indígenas: reflexões críticas e perspectivas. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 26, n. 58, p. 7-31, set./dez. 2020.
FABIAN, J. O Tempo e o Outro Emergente. Em O Tempo e o Outro: como a antropologia estabelece seu objeto. Petrópolis (RJ): Editora Vozes, 2013.
GRÜNBERG, G. (Coord.). La Situación del Indígena en América del Sur: Aportes al estudio de la fricción inter-étnica en los indios no-andinos. Quito: Editorial Universitaria Abya-Yala, 2019.
SEMINÁRIO INTERNACIONAL sobre os 50 anos da Declaração de Barbados: a virada política e epistemológica da Antropologia na América Latina. [vídeo]. Disponível em: https://youtu.be/C5OVDXPkDPQ. Acesso em: 22 maio 2025.
VI EMBRA – VI Encontro Mexicano-Brasileiro de Antropologia. Disponível em: https://viembra2022ufsc.paginas.ufsc.br. Acesso em: 22 maio 2025.